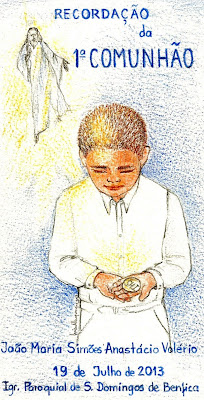A chamada "doença terminal" - parte 2
Natureza da eutanásia
Entre as respostas éticas relativas ao doente terminal, a mais problemática diz respeito à eutanásia, termo ambíguo enquanto sobrepõe o plano descritivo (isto é, da raiz grega, o conceito de “boa morte”, en Tanathós) com o plano valorativo (isto é, a supressão piedosa do doente).
Antes de mais, então, procuremos definir exactamente os termos do problema. “Por ‘eutanásia’ podemos entender toda a acção ou omissão completa para suprimir a vida de, um doente com o fim de lhe evitar sofrimentos físicos ou psíquicos”.
Logo, a eutanásia não consiste só no completar uma acção directamente finalizada a suprimir um indivíduo, mas também no omitir uma acção que poderia salvá-lo. No plano ético, em substância, não existe diferença entre uma morte directa e fazer deliberadamente que o indivíduo morra; como não existe diferença entre o eliminar um homem afogando-o no mar ou deixar que se afogue. Ninguém pode justificar-se dizendo que “não fez nada” para o matar se, voluntariamente, “não fez nada” para o salvar. Mesmo por isto seria necessário abandonar a expressão ambígua de eutanásia activa ou passiva. A “eutanásia passiva” não existe. De facto ou se configura como omissão terapêutica com o objectivo de provocar a morte (então é eutanásia em todo o sentido sem precisar de ulteriores adjectivos) ou é só recusa de uma obstinação terapêutica numa situação que está irreversivelmente caminhando para a morte (então não se pode definir eutanásia).
O primeiro dos possíveis ‘candidatos’ à eutanásia é o próprio doente incurável, especialmente se está na fase terminal da sua doença. Também aqui se deve estar atento. Deve-se distinguir entre ‘terapia’ e ‘cura’ (ou dito com a mais colorida terminologia inglesa, entre ‘cure’ e ‘cace’). Assim, a primeira indica toda a intervenção directa para a recuperação da saúde total do paciente; por ‘cura’ devemos entender todas as prestações complementares que, mesmo não incidindo de alguma maneira sobre o prolongamento da vida ou o melhoramento do paciente, contribuem para o manter em vida nas condições qualitativamente mais aceitáveis. Entram, pois, nas curas ordinárias: alimentação parental, idoneidade das condições higiénico-ambientais, purgar as chagas, etc. Portanto mesmo se existem doentes que não se restabelecem não existem doentes incuráveis.
A parte mais importante da definição, todavia, é a última enquanto coloca o acento nas peculiaridades que, diferenciando aparentemente a eutanásia de outras formas de supressão da vida, serviriam para justificar a legalidade ética. Com efeito não se trata da justificação do gesto, da motivação ‘humanitária’ que torna a eutanásia um ‘homicídio piedoso’. É importante sublinhar que os sofrimentos evitados pela eutanásia não são apenas físicos mas também psíquicos. Não é uma evidência irrelevante quando se pensa o modo que incidem, tais sofrimentos no doente terminal. Para além disso esta parte da definição poderia já individuar um dos grandes equívocos que sustêm a eutanásia: em muitos casos o sujeito a quem são evitados os sofrimentos físicos e psíquicos não é o doente mas quem o assiste. Na realidade, pois, por detrás da presumida humanidade nos confrontos com o outro existe só o desejo de pôr um termo a um nosso sofrimento que, em algumas doenças de longa fase terminal pode ser verdadeiramente extenuante.
Razões de ilegitimidade
Como se diz a propósito do aborto, o direito à vida é um direito fundamental mas não absoluto. Isto significa que esse respeito pode ser licitamente subordinado ao respeito de outros valores ou sacrificado ao respeito pela vida dos outros. Mas no caso da eutanásia não existe algum direito ou valor que possa considerar-se superior à vida do indivíduo: nem o alívio do sofrimento do doente nem ainda menos dos seus familiares, ainda que legítimo. Se assim não fosse, isto é, se tivéssemos de considerar o valor da vida subordinável àquele da ausência do sofrimento, não se vê porque deveremos esperar a doença grave para evitá-la. Muitos sofrimentos da vida são muito mais graves do que o sofrimento do doente terminal e aplicando o mesmo critério de juízo (isto é ausência de sofrimento como valor prioritário em relação à vida) nestes casos deveremos justificar plenamente o suicídio. Daí resulta que o direito à vida é irrenunciável.
Mas existe ainda uma segunda consideração a fazer. A introdução do ‘princípio’ da eutanásia (como, em parte, já aconteceu com o aborto) significa de facto, fazer depender a vida de um indivíduo da vontade dos outros. Vontade que, no caso em questão, está orientada para um desejo, por si legítimo (a superação do sofrimento) mas que na sua actuação implica uma ‘decisão’ tomada pelos outros, mesmo se em relação com uma motivação positiva. Aceitar este princípio significa introduzir a ideia de que a existência em vida possa depender de condições permissivas. Hoje a saúde plena, no passado o acerto da raça pura ou da partilha ideológica… e no futuro? Logo se ninguém pode legitimamente privar o homem da vida (mesmo mesmo por razões plausíveis) o direito à vida é inalienável.
Uma terceira consideração diz respeito ao corpo médico. Já o Juramento de Hipócrates proibia claramente a eutanásia: “nunca subministrarei, movido de cuidadosas insistências de alguém, um fármaco letal nem farei algo deste género”. Observamos como seja claramente evidente a armadilha da motivação piedosa (“movido de cuidadosas insistências de alguém”) e, provavelmente também a eventualidade de um acto omisso (“nem farei coisa semelhante”). À luz destas considerações podemos dizer que mesmo diante das insistências do doente ou dos seus familiares, o corpo médico não pode participar em algum processo que tenha como fim a eutanásia. Neste sentido, o direito à vida é inaceitável, isto é, não pode ser aceite, simplesmente porque ninguém (doente, médico ou familiares) pode dispôr dele.
Uma última consideração. Muitas vezes o corpo médico encontra-se em dificuldade quando o paciente, actualmente em coma, tenha deixado por escrito uma vontade específica (o chamado living will). Neste acto ele requer que lhe seja suspensa toda a cura médica se, num estado de inconsciência, esta prolongasse uma existência ‘privada de sentido’, puramente vegetativa. Este problema torna-se cada vez mais importante até pelas implicações relativas a um problema de consenso. De facto, no que respeita a um objecto sobre o qual não se pode dispor livremente (a própria vida) toma-se por isso mesmo inválido. Logo o direito à vida é indisponível. Portanto, podemos dizer em síntese que o direito à vida é:
Irrenunciável - não se pode depender de valores que lhe estão subordinados (como a ausência de sofrimento);
Inalienável - não se pode fazer depender da vontade dos outros;
Indisponível - não se pode dispor de uma forma válida com um acto formal que obrigue o seu respeito;
Inaceitável - não se pode aceitar a sua renúncia.
Inalienável - não se pode fazer depender da vontade dos outros;
Indisponível - não se pode dispor de uma forma válida com um acto formal que obrigue o seu respeito;
Inaceitável - não se pode aceitar a sua renúncia.