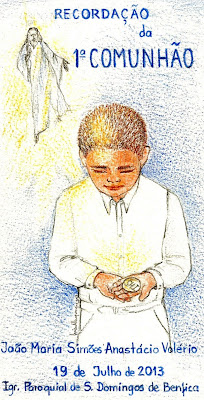A chamada "doença terminal" - parte 4
A proporcionalidade dos tratamentos, antes discutida, é no entanto apenas uma das respostas alternativas ao problema da eutanásia e do afinco terapêutico na doença terminal. A sua verdadeira evolução consiste, provavelmente, numa cultura diversa que nos leve a descobrir o sentido de viver e de morrer, que torne a morte ‘digna’ do homem e que nos capacite ‘acompanhar’ o moribundo a tal acontecimento último.
É necessário redescobrir também, no nosso tempo, a atenção ao momento e ao significado da morte. O seu momento não pode apanhar-nos de surpresa. Talvez hoje sorrimos diante dos textos ascéticos dos séculos passados como a Preparação para a morte de S. Afonso de Ligório mas não nos deveria escapar o sentido mais profundo de tais atitudes. Toda a vida deveria ser uma longa preparação para a morte. Como diz uma frase atribuída a Leonardo da Vinci “como um dia bem passado no leito de dormir, assim uma vida bem vivida no leito de morrer”. Não se pode compreender a morte se a vida não é compreendida. Com a morte, o homem, pelo menos em termos terrenos, não existe, logo é necessária que tenha sido compreendida. Por outro lado, porque detrás do pedido da eutanásia por parte de um doente, não existe muitas vezes um pedido de morte mas um pedido de sentido. A verdadeira vida privada de valor não é aquela do doente terminal mas a do homem que não soube dar valor, isto é, significado, à própria existência.
A dignidade da morte.
Um dos critérios fundamentais sobre o qual se baseia a recusa do afinco terapêutico e, muitas vezes, também a eutanásia, é o direito a morrer com dignidade. O respeito pela vida humana exige que esta não possa ser constrangida pelo ‘poder’ de um recurso instrumental quando volta irreversivelmente ao seu termo: o seu fim não deve transformar-se num inútil artifício técnico. A corporeidade humana deve ser assistida, cuidada, substituída, se é o caso, mas não substituída desmembrando-a na funcionalidade mecânica de mil apetrechos. A dignidade do ser humano requer este respeito extremo. Que sentido tem encher uma pessoa de fármacos certamente inúteis (quantos massacres de quimioterapias antiblásticas) quando esta se aproxima inevitavelmente e irreversivelmente do fim da sua existência? Que sentido dar aos extenuantes flebos cheios de coktails farmacológicos com os quais se atormentam os idosos já próximos do fim? Qual é o objectivo ao fazer experimentar outra dor (mesmo uma simples injecção), causar vómitos, diarreia ou outros efeitos colaterais com uma presumida ‘terapia’ que não terá qualquer efeito?
Se um “direito à morte” (contraposto ao “direito à vida”) existe, é um direito a uma morte com dignidade, “humana”, isto é, digna do homem e da sua vida. Não um redutivo “poder de vida ou de morte” mas um serviço à vida desde o seu início até ao seu fim natural.
Tudo isto requer uma informação adequada e urna compreensão serena por parte dos familiares para além do corpo médico. Nas situações em que se recorre a práticas que confiram um afinco terapêutico por um doente terminal, muitas vezes são identificadas motivações que nada têm a ver com o autêntico significado da terapia: desejo de sentir a consciência tranquila por ter feito “todo o possível” até ao fim, respeito para com os hipotéticos indícios de consciência que o paciente possa ter e que o levariam a sentir-se ‘abandonado’, imperativos afectivos para compensar tudo o que tenha feito por quem agora o assiste, etc.
É necessário que seja bem clara a diferença profunda que existe entre a omissão terapêutica que causa, por sua natureza, a morte (e que representa uma forma de eutanásia) e a simples abstenção que não incide significativamente no percurso natural da doença (e que é apenas a recusa de afinco terapêutico): a obrigação moral do corpo médico é de conservar a vida, não de prolongar a agonia.
Por outro lado, também o pensamento católico mostra grande equilíbrio e abertura a este respeito. A propósito da questão extremamente concreta acerca da legitimidade de suspender os meios que sustentam artificialmente a vida de um indivíduo, a Declaração da Congregação da Doutrina da Fé, exprime-se deste modo sobre a eutanásia:
“Na iminência de uma morte inevitável não obstante os meios utilizados, é lícito tomar a decisão de renunciar a tratamentos que pretenderem apenas um prolongamento precário e penoso da vida, sem todavia interromper os curativos normais devidos ao doente em ‘casos’ semelhantes. Tal decisão, de facto, não equivale à eutanásia mas significa mais uma simples aceitação da condição humana, ou o desejo de evitar o colocar em acto um dispositivo médico desproporcionado aos resultados que se poderiam esperar, ou mesmo a vontade de não impor custos demasiado graves à família e à colectividade”.
Os tratamentos paliativos
Se queremos, a função ‘paliativa’ da assistência perde-se na memória dos tempos. Podemos dizer que todas as vezes que uma pessoa se encarregou do percurso ‘terminal’ de uma outra pessoa, dando-lhe suporte, ajudando-a, confortando-a, implicitamente fez um tratamento paliativo.
Tais cuidados podem ser definidos como “tratamentos totais oferecidos ao paciente a partir do momento em que a doença não responde à terapia. Esses vêem a vida e a morte como um processo natural, não querem apressá-la nem antecipá-la, provêem ao alívio da dor e dos outros sintomas, integram os aspectos psicológicos e sociais no cuidado pelo paciente, oferecem um sistema de ajuda contínua ao doente até ao último instante da vida e um suporte à família para enfrentara doença e o luto” (Ventafridda, 1994).
Infelizmente o termo que mesmo sendo de origem latina, aparece-nos mudado através do mundo anglo-saxão (paliative care). É um pouco infeliz na nossa língua, enquanto ‘paliativo’ indica aquilo que não é resolvido, um remédio de segunda escolha para colocar em acto quando não existe urna terapia eficaz. Assim transferindo o conceito no âmbito da doença terminal a ideia de tratamento ‘paliativo’ evoca imediatamente um tratamento que se aplica quando não há mais nada a fazer, mesmo para não dar a entender ao doente a ilusão de um abandono terapêutico, mais uma complacência que uma real assistência. Na realidade o tratamento paliativo é exactamente aquele que se tem a fazer para aquele doente. Não será certamente a cura, porque esta é impossível, mas uma série de medidas (mesmo às vezes tecnicamente comprometedoras) para garantir uma boa qualidade da vida no tempo que existirá.
Por outro lado, o termo paliativo, se bem entendido na sua origem etimológica exacta apresenta-se particularmente rico. De facto vem de palium que era o manto de lã usado pelos pastores (e que ainda hoje é entregue, como ‘pálio’, pelo papa aos arcebispos). O ser paliativo, portanto, exige um remédio particularmente útil e eficaz para proteger e defender a pessoa de uma adversidade ambiental como o frio e, em sentido transferido para a ‘cobrir’ contra a agressividade da doença.
Acompanhamento à morte
Provavelmente é o verdadeiro o problema ético da doença terminal.
De facto, não é fácil “acompanhar durante a morte”, suster o moribundo nos seus medos, no seu desânimo, na sua tristeza. Até porque todas as vezes que nos confrontamos com a morte dos outros censuramos a ideia e o confronto com a nossa própria morte. Ao moribundo nos se limita a dizer: “não penses nestas coisas”. Ao contrário deve pensar-se, olhar em frente o evento, quase ‘conversar’ com a morte, como acontece na grande metáfora que Bergman nos propõe no “Sétimo Selo”. E como nos recorda Montaigne, jogando com a ambiguidade do termo francês sage-femme (que significa parteira): “Se é necessário uma mulher sábia para ajudar o homem a entrar no mundo, é preciso uma pessoa ainda mais sábia para o ajudar a sair desse mundo”.
A este respeito, quero propor uma leitura particular de um antigo exercício de piedade cristã, que é a Via Sacra, cujo significado emblemático transcende a dimensão ascético-devocional e pode ser compreendido também num perfeito horizonte de laicidade. É de facto a metáfora de um grande “acompanhamento para a morte” para um sujeito que chegou à fase terminal da sua existência.
Aí encontramos todo o universo emocional variado que acompanha o processo de morrer: desde a fuga das pessoas queridas (vemos o abandono dos apóstolos ao actual abandono dos familiares e amigos) à presença insuspeita de pessoas tidas como fortes (como, na cultura do tempo, as mulheres).
Ao lado do moribundo, quando todos fogem fica um pequeno grupo de pessoas. São eles que o ajudam a não ficar ‘só’, a ver nos olhos um rosto amigo que lhe oferece um gesto de afecto como última memória da vida que o está a deixar.
O acontecimento morte, por outro lado, ‘obriga’ muitas vezes a ajudar o moribundo, pelo menos porque está inserido no núcleo familiar a quem pertence e na qual a doença chega de repente sobre as costas, afastando-nos, como o homem de Cirene, do nosso quotidiano.
Mas, se de um lado um é constrangimento, do outro lado está quem voluntariamente se oferece a recolher as lágrimas do moribundo e, como aquela mulher a quem um apócrifo deu o nome de Verónica (nome que significa “verdadeira imagem” - verdadeiro ícone), volta a casa trazendo consigo alguma coisa da pessoa que queria consolar.
Até por detrás da partilha das vestes por parte dos soldados podemos ler o recolher, no sentido mais alto e mais nobre, a herança de quem morre. O que fica é de quem fica. Não só uma túnica ou uma veste, mas também e sobretudo uma memória.
Enfim quando tudo parece acabar emerge a determinação de quem tem a coragem de tirar da cruz. O seu gesto deveria ser a expressão simbólica do empenho a tirar os pregos da morte, não sempre factível no plano material mas sempre possível no plano psicológico e humano. Livramo-nos de uma morte que aparece como inevitável e espectro absurdo dando-lhe um sentido, sabendo olhar ‘além’.
Toda a ética da humanização da doença terminal pode conter-se em todo este empenho.
Um dos critérios fundamentais sobre o qual se baseia a recusa do afinco terapêutico e, muitas vezes, também a eutanásia, é o direito a morrer com dignidade. O respeito pela vida humana exige que esta não possa ser constrangida pelo ‘poder’ de um recurso instrumental quando volta irreversivelmente ao seu termo: o seu fim não deve transformar-se num inútil artifício técnico. A corporeidade humana deve ser assistida, cuidada, substituída, se é o caso, mas não substituída desmembrando-a na funcionalidade mecânica de mil apetrechos. A dignidade do ser humano requer este respeito extremo. Que sentido tem encher uma pessoa de fármacos certamente inúteis (quantos massacres de quimioterapias antiblásticas) quando esta se aproxima inevitavelmente e irreversivelmente do fim da sua existência? Que sentido dar aos extenuantes flebos cheios de coktails farmacológicos com os quais se atormentam os idosos já próximos do fim? Qual é o objectivo ao fazer experimentar outra dor (mesmo uma simples injecção), causar vómitos, diarreia ou outros efeitos colaterais com uma presumida ‘terapia’ que não terá qualquer efeito?
Se um “direito à morte” (contraposto ao “direito à vida”) existe, é um direito a uma morte com dignidade, “humana”, isto é, digna do homem e da sua vida. Não um redutivo “poder de vida ou de morte” mas um serviço à vida desde o seu início até ao seu fim natural.
Tudo isto requer uma informação adequada e urna compreensão serena por parte dos familiares para além do corpo médico. Nas situações em que se recorre a práticas que confiram um afinco terapêutico por um doente terminal, muitas vezes são identificadas motivações que nada têm a ver com o autêntico significado da terapia: desejo de sentir a consciência tranquila por ter feito “todo o possível” até ao fim, respeito para com os hipotéticos indícios de consciência que o paciente possa ter e que o levariam a sentir-se ‘abandonado’, imperativos afectivos para compensar tudo o que tenha feito por quem agora o assiste, etc.
É necessário que seja bem clara a diferença profunda que existe entre a omissão terapêutica que causa, por sua natureza, a morte (e que representa uma forma de eutanásia) e a simples abstenção que não incide significativamente no percurso natural da doença (e que é apenas a recusa de afinco terapêutico): a obrigação moral do corpo médico é de conservar a vida, não de prolongar a agonia.
Por outro lado, também o pensamento católico mostra grande equilíbrio e abertura a este respeito. A propósito da questão extremamente concreta acerca da legitimidade de suspender os meios que sustentam artificialmente a vida de um indivíduo, a Declaração da Congregação da Doutrina da Fé, exprime-se deste modo sobre a eutanásia:
“Na iminência de uma morte inevitável não obstante os meios utilizados, é lícito tomar a decisão de renunciar a tratamentos que pretenderem apenas um prolongamento precário e penoso da vida, sem todavia interromper os curativos normais devidos ao doente em ‘casos’ semelhantes. Tal decisão, de facto, não equivale à eutanásia mas significa mais uma simples aceitação da condição humana, ou o desejo de evitar o colocar em acto um dispositivo médico desproporcionado aos resultados que se poderiam esperar, ou mesmo a vontade de não impor custos demasiado graves à família e à colectividade”.
Os tratamentos paliativos
Se queremos, a função ‘paliativa’ da assistência perde-se na memória dos tempos. Podemos dizer que todas as vezes que uma pessoa se encarregou do percurso ‘terminal’ de uma outra pessoa, dando-lhe suporte, ajudando-a, confortando-a, implicitamente fez um tratamento paliativo.
Tais cuidados podem ser definidos como “tratamentos totais oferecidos ao paciente a partir do momento em que a doença não responde à terapia. Esses vêem a vida e a morte como um processo natural, não querem apressá-la nem antecipá-la, provêem ao alívio da dor e dos outros sintomas, integram os aspectos psicológicos e sociais no cuidado pelo paciente, oferecem um sistema de ajuda contínua ao doente até ao último instante da vida e um suporte à família para enfrentara doença e o luto” (Ventafridda, 1994).
Infelizmente o termo que mesmo sendo de origem latina, aparece-nos mudado através do mundo anglo-saxão (paliative care). É um pouco infeliz na nossa língua, enquanto ‘paliativo’ indica aquilo que não é resolvido, um remédio de segunda escolha para colocar em acto quando não existe urna terapia eficaz. Assim transferindo o conceito no âmbito da doença terminal a ideia de tratamento ‘paliativo’ evoca imediatamente um tratamento que se aplica quando não há mais nada a fazer, mesmo para não dar a entender ao doente a ilusão de um abandono terapêutico, mais uma complacência que uma real assistência. Na realidade o tratamento paliativo é exactamente aquele que se tem a fazer para aquele doente. Não será certamente a cura, porque esta é impossível, mas uma série de medidas (mesmo às vezes tecnicamente comprometedoras) para garantir uma boa qualidade da vida no tempo que existirá.
Por outro lado, o termo paliativo, se bem entendido na sua origem etimológica exacta apresenta-se particularmente rico. De facto vem de palium que era o manto de lã usado pelos pastores (e que ainda hoje é entregue, como ‘pálio’, pelo papa aos arcebispos). O ser paliativo, portanto, exige um remédio particularmente útil e eficaz para proteger e defender a pessoa de uma adversidade ambiental como o frio e, em sentido transferido para a ‘cobrir’ contra a agressividade da doença.
Acompanhamento à morte
Provavelmente é o verdadeiro o problema ético da doença terminal.
De facto, não é fácil “acompanhar durante a morte”, suster o moribundo nos seus medos, no seu desânimo, na sua tristeza. Até porque todas as vezes que nos confrontamos com a morte dos outros censuramos a ideia e o confronto com a nossa própria morte. Ao moribundo nos se limita a dizer: “não penses nestas coisas”. Ao contrário deve pensar-se, olhar em frente o evento, quase ‘conversar’ com a morte, como acontece na grande metáfora que Bergman nos propõe no “Sétimo Selo”. E como nos recorda Montaigne, jogando com a ambiguidade do termo francês sage-femme (que significa parteira): “Se é necessário uma mulher sábia para ajudar o homem a entrar no mundo, é preciso uma pessoa ainda mais sábia para o ajudar a sair desse mundo”.
A este respeito, quero propor uma leitura particular de um antigo exercício de piedade cristã, que é a Via Sacra, cujo significado emblemático transcende a dimensão ascético-devocional e pode ser compreendido também num perfeito horizonte de laicidade. É de facto a metáfora de um grande “acompanhamento para a morte” para um sujeito que chegou à fase terminal da sua existência.
Aí encontramos todo o universo emocional variado que acompanha o processo de morrer: desde a fuga das pessoas queridas (vemos o abandono dos apóstolos ao actual abandono dos familiares e amigos) à presença insuspeita de pessoas tidas como fortes (como, na cultura do tempo, as mulheres).
Ao lado do moribundo, quando todos fogem fica um pequeno grupo de pessoas. São eles que o ajudam a não ficar ‘só’, a ver nos olhos um rosto amigo que lhe oferece um gesto de afecto como última memória da vida que o está a deixar.
O acontecimento morte, por outro lado, ‘obriga’ muitas vezes a ajudar o moribundo, pelo menos porque está inserido no núcleo familiar a quem pertence e na qual a doença chega de repente sobre as costas, afastando-nos, como o homem de Cirene, do nosso quotidiano.
Mas, se de um lado um é constrangimento, do outro lado está quem voluntariamente se oferece a recolher as lágrimas do moribundo e, como aquela mulher a quem um apócrifo deu o nome de Verónica (nome que significa “verdadeira imagem” - verdadeiro ícone), volta a casa trazendo consigo alguma coisa da pessoa que queria consolar.
Até por detrás da partilha das vestes por parte dos soldados podemos ler o recolher, no sentido mais alto e mais nobre, a herança de quem morre. O que fica é de quem fica. Não só uma túnica ou uma veste, mas também e sobretudo uma memória.
Enfim quando tudo parece acabar emerge a determinação de quem tem a coragem de tirar da cruz. O seu gesto deveria ser a expressão simbólica do empenho a tirar os pregos da morte, não sempre factível no plano material mas sempre possível no plano psicológico e humano. Livramo-nos de uma morte que aparece como inevitável e espectro absurdo dando-lhe um sentido, sabendo olhar ‘além’.
Toda a ética da humanização da doença terminal pode conter-se em todo este empenho.